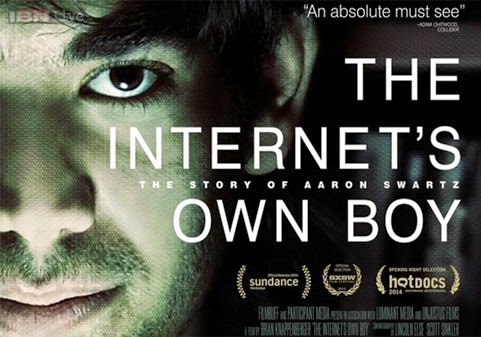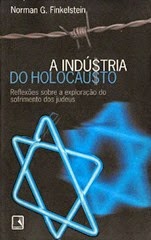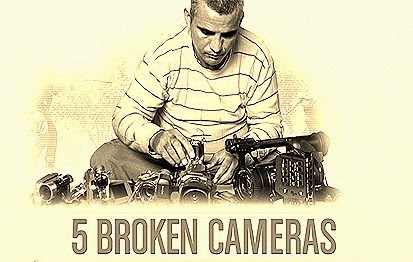No início de 2013, Aaron Swartz – criador do RSS 1.0 e um dos fundadores do Reddit – cometeu suicídio. Ele tinha 26 anos. Ele queria tornar públicos os artigos da base acadêmica JSTOR, e por isso poderia ser condenado a até 50 anos de prisão e a US$ 4 milhões em multas.
O filme The Internet’s Own Boy: The Story of Aaron Swartz foi legendado de forma não-oficial, por um esforço coletivo, e está disponível abaixo - clique no botão “Legendas” para ativá-las. Vale lembrar que o filme está disponível em licença Creative Commons.
O documentário foi produzido por Brian Knappenberger – que dirigiu um documentário sobre o Anonymous e financiado através do Kickstarter que superou a meta: Knappenberger pediu US$ 75.000, mas recebeu quase US$ 94.000. O filme estreou em janeiro no festival de cinema em Sundance, e nos cinemas americanos e video on demand em junho.
O Menino da Internet: a História de Aaron Swartz conta como o jovem criou o protocolo RSS, usado em inúmeros sites até hoje; como ajudou a criar o Reddit, uma das maiores comunidades online; e sua luta contra o projeto de lei antipirataria SOPA através da entidade Demand Progress.
Mais informações: http://gizmodo.uol.com.br/documentario-aaron-swartz/
Perdão, Aaron Swartz:
A morte de um gênio da internet, aos 26 anos, é um marco trágico do nosso tempo. É hora de pensar sobre nossas ações – ou omissões
ELIANE BRUM - 21/01/2013.
– Eu sinto fortemente que não é suficiente simplesmente viver no mundo como ele é e fazer o que os adultos disseram que você deve fazer, ou o que a sociedade diz que você deve fazer. Eu acredito que você deve sempre estar se questionando. Eu levo muito a sério essa atitude científica de que tudo o que você aprende é provisório, tudo é aberto ao questionamento e à refutação. O mesmo se aplica à sociedade. Eu cresci e através de um lento processo percebi que o discurso de que nada pode ser mudado e que as coisas são naturalmente como são é falso. Elas não são naturais. As coisas podem ser mudadas. E mais importante: há coisas que são erradas e devem ser mudadas. Depois que percebi isso, não havia como voltar atrás. Eu não poderia me enganar e dizer: “Ok, agora vou trabalhar para uma empresa”. Depois que percebi que havia problemas fundamentais que eu poderia enfrentar, eu não podia mais esquecer disso.
Aaron Swartz tinha 22 anos quando explicou por que fazia o que fazia, era quem era. Aos 26, ele está morto. Foi encontrado enforcado em seu apartamento de Nova York na sexta-feira, 11 de janeiro. Provável suicídio. Talvez a maioria não o conheça, mas Aaron está presente na nossa vida cotidiana há bastante tempo. Desde os 14anos, ele trabalha criando ferramentas, programas e organizações na internet. E, de algum modo, em algum momento, quem usa a rede foi beneficiado por algo que ele fez. Isso significa que, aos 26 anos, Aaron já tinha trabalhado praticamente metade da sua vida. E, nesta metade ele participou da criação do RSS (que nos permite receber atualizações do conteúdo de sites e blogs de que gostamos), do Reddit (plataforma aberta em que se pode votar em histórias e discussões importantes), e do Creative Commons (licença que libera conteúdos sem a cobrança de alguns direitos por parte dos autores). Mas não só. A grande luta de Aaron, como fica explícito no depoimento que abre esta coluna, era uma luta política: ele queria mudar o mundo e acreditava que era possível.
E queria mudar o mundo como alguém da sua geração vislumbra mudar o mundo: dando acesso livre ao conhecimento acumulado da humanidade pela internet. E também usando a rede para fiscalizar o poder e conquistar avanços nas políticas públicas. Movido por esse desejo, Aaron ajudou a criar o Watchdog, website que permite a criação de petições públicas; a Open Library, espécie de biblioteca universal, com o objetivo de ter uma página na web para cada livro já publicado no mundo; e o Demand Progress, plataforma para obter conquistas em políticas públicas para pessoas comuns, através de campanhas online, contato com congressistas e advocacia em causas coletivas. Em 2008, lançou um manifesto no qual dizia: “A informação é poder. Mas tal como acontece com todo o poder, há aqueles que querem guardá-lo para si”.
Indignado com a passividade dos acadêmicos diante do controle da informação por grandes corporações, ele conclamava a todos para lutar juntos contra o que chamava de “privatização do conhecimento”. Baixou milhões de arquivos do judiciário americano, cujo acesso era cobrado, apesar de os documentos serem públicos. Chegou a ser investigado pelo FBI, mas sem consequências jurídicas. Em 2011, porém, Aaron foi alcançado.
>> O risco de criar um mártir da pirataria
Em alguns dias, ele baixou 4,8 milhões de artigos acadêmicos de um banco de dados chamado JSTOR, cujo acesso é pago pelas universidades e instituições. Aaron usou a rede do conceituado MIT (Massachusets Institute of Technology) para acessar o banco de dados, fazendo download de muitos documentos ao mesmo tempo, o que era – é importante ressaltar – permitido pelo sistema. Não se sabe o que ele faria com os documentos, possivelmente dar-lhes livre acesso. Mas, se era esta a intenção, Aaron não chegou a concretizá-la. Ao ser flagrado, ele assegurou que não pretendia lucrar com o ato e devolveu os arquivos copiados para o JSTOR, que extinguiu a ação judicial no plano civil.
Havia, porém, um processo penal: Aaron foi enquadrado nos crimes de fraude eletrônica e obtenção ilegal de informações, entre outros delitos. “Roubo é roubo, não interessa se você usa um computador ou um pé-de-cabra, e se você rouba documentos, dados ou dólares”, afirmou a procuradora dos Estados Unidos em Massachusetts, Carmen Ortiz (United StatesAttorney). Aaron seria julgado em abril. E, se fosse acatado o pedido da acusação, esta seria a sua punição: 35 anos de prisão e uma multa de 1 milhão de dólares.
Aaron Swartz morreu antes, aos 26 anos. E, como disse Kevin Poulsen, na Wired: “O mundo é roubado em meio século de todas as coisas que nós nem podemos imaginar que Aaron realizaria com o resto da sua vida”. Na The Economist, ele assim foi descrito: “Chamar Aaron Swartz de talentoso seria pouco. No que se refere à internet, ele era o talento”. Susan Crawford, que foi conselheira de tecnologia do governo de Barack Obama, afirmou, como conta John Schwartz, noThe New York Times: “Aaron construiu coisas novas e surpreendentes, que mudaram o fluxo da informação ao redor do mundo”. E, acrescentou: “Ele era um prodígio complicado”.
Li em vários artigos que Aaron seria depressivo. Em alguns textos, a suposta depressão foi citada como causa de sua decisão, como se a doença pudesse estar isolada – e não associada aos possíveis abusos cometidos contra ele no curso do processo judicial. É evidente que qualquer pessoa, e especialmente se ela for saudável, sofreria com a perspectiva de passar as próximas três décadas na cadeia – mais ainda se isso significasse um tempo superior à toda a sua vida até então. Esta é uma possibilidade capaz de abater até o mais autoconfiante e otimista entre nós, o que não equivale a dizer que todos lidariam com esse pesadelo da mesma forma. Se é perigoso encontrar um culpado para uma escolha tão complexa quanto o suicídio, também é perigoso quando a depressão é vista como algo apartado da vida vivida – e a patologia é colocada a serviço da simplificação. Se as doenças falam do indivíduo, falam também do seu mundo e de seu momento histórico. (leia mais sobre a trajetória de Aaronaqui e aqui.)
Se Aaron Swartz encerrou a própria vida, esta foi a sua decisão. Tornar-se adulto é também bancar as suas escolhas – e, neste sentido, estar só. Digo isso para que a nossa dor não esvazie de protagonismo o último ato de Aaron, o que equivaleria a desrespeitá-lo. Aaron é responsável por sua escolha, por mais que ela possa ser lamentada. E só ele poderia afirmar por que a fez.
Isso não significa, porém, que vários atores do caso judicial que envenenou a vida de Aaron nos últimos dois anos, com aparentes excessos, não precisem também assumir responsabilidades e responder por suas respectivas escolhas.Um dos mentores de Aaron, Larry Lessig (escritor, professor de Direito da Universidade de Harvard, cofundador do Creative Commons) afirmou que ele tinha errado, mas considerou a acusação e a possível punição uma resposta desproporcional ao ato. Logo após a morte de Aaron, escreveu: “(Ele) partiu hoje, levado ao limite pelo que uma sociedade decente só poderia chamar de bullying”.
Colunistas como Glenn Greenwald, do Guardian, acreditam que o processo penal era uma resposta do governo dos Estados Unidos contra o seu ativismo libertário: “Swartz foi destruído por um sistema de ‘justiça’ que dá proteção integral aos criminosos mais ilustres – desde que sejam membros dos grupos mais poderosos do país, ou úteis para estes –, mas que pune sem piedade e com dureza incomparável quem não tem poder e, acima de tudo, aqueles que desafiam o poder”. Em declaração pública, a família afirmou: “A morte de Aaron não é apenas uma tragédia pessoal. É produto de um sistema de justiça criminal repleto de intimidações”. A família também responsabilizou o MIT pelo desfecho.
Em comunicado, o presidente do MIT, L. Rafael Reif, anunciou a abertura de um inquérito interno para apurar a responsabilidade da instituição nos acontecimentos que levaram à morte de Aaron. Reif escreveu: “Eu e todos do MIT estamos extremamente tristes pela morte deste jovem promissor que tocou a vida de tantos. Me dói pensar que o MIT tenha tido algum papel na série de eventos que terminaram em tragédia. (...) Agora é o momento de todos os envolvidos refletirem sobre suas ações, e isso inclui todos nós do MIT”.
É tarde para o MIT, é tarde para nós. Mas, ainda assim, necessário. É importante pensar sobre o significado da tragédia de Aaron Swartz. E, para começar, só o fato de ela poder significar algo para todos, sendo ele um jovem americano encontrado morto num apartamento em Nova York, é bastante revelador desse mundo novo que Aaron ajudava a construir. Esse mundo que nos une em rede, simultaneamente, que faz o longe ficar perto. Nesse contexto, a tragédia de Aaron Schwartz não é apenas um episódio, mas o marco de um momento histórico específico. Nele, diferentes forças econômicas, políticas e culturais se batem para impor ou derrubar barreiras no acesso ao conhecimentona internet. E este é, junto com a questão socioambiental, o maior debate atual. E é ele que está moldando nosso futuro.
Como disse Tatiana de Mello Dias, em seu blog no Estadão, “poucas pessoas traduziram tão bem a época em que nós estamos vivemos quanto Aaron Swartz”. Isso faz com que possamos pensar que sua morte é também, simbolicamente, um fracasso da geração a qual pertenço. Essa geração que testemunhou o nascimento da internet, que está decidindo – na maioria dos casos por omissão – como o conhecimento vai circular dentro dela e que, por ter crescido num mundo sem ela, nem chega a compreender totalmente o que está em jogo. E por isso deixa a geração de Aaron tão só.
Obviamente sou capaz de perceber os poderosos interesses envolvidos nas decisões relacionadas à internet, boa parte deles conduzidos também por gente da geração a qual pertenço. Mas me refiro aqui à passividade de muitos, no exercício da cidadania, diante de um dos debates cruciais do nosso tempo. E aqui vale uma observação: quando se diz que a juventude atual é alienada, que não trava lutas políticas como seus pais e avós, não é também deixar de enxergar o que se passa na internet, a “rua/praça” de uma série de movimentos políticos levados adiante pelos mais jovens? Já não é um tanto estúpido pensar em mundo real/mundo virtual como oposições? Criticar o “ativismo de sofá” dos mais jovens, menosprezando as ações na rede, não seria má fé ou ignorância? Talvez, como pais e adultos desse tempo, parte de nós tenha apenas medo e vergonha daquilo que não compreende. E, em vez de tentar compreender, num comportamento humano tão triste quanto clássico, desqualifica e rechaça. Afinal, literalmente, a internet tirou o chão que acreditávamos existir debaixo dos nossos trêmulos pés. Ou, pelo menos, nos mostrou que não havia nenhum.
Aaron não era apenas um gênio da internet, ainda que essa palavra “gênio” já tenha sido tão abusada. Talvez o maior ato político de Aaron tenha sido o que fez com seu talento. Ele usou-o para lutar pelo acesso livre ao conhecimento, via internet. Isso, em si, já o tornaria perigoso para muitos. Mas há algo que pode ter soado ainda mais imperdoável: Aaron não queria ganhar dinheiro com o seu talento. Ele não era aquilo que as crianças são ensinadas a admirar: um jovem gênio milionário da internet, como Mark Zuckerberg, o criador do Facebook. Aaron Swartz era um jovem gênio que não queria ser milionário. E, convenhamos, nada pode ser mais subversivo do que isso.
Ao ler sobre a morte de Aaron Swartz, lembrei de dois versos. Ao fim ou diante dele, apesar de todos os argumentos, é só a poesia que dá conta da tragédia. Um é do eternamente jovem Rimbaud (1854-1891): “Por delicadeza, perdi minha vida”. E o outro foi escrito por um Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) já velho: “Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam (os delicados) morrer”.
Quando lemos o que Aaron Swartz escreveu, ouvimos o que disse, ele que acreditava tanto em mudar o mundo, é difícil não pensar: por que ele desistiu de nós, ele que acreditava tanto? Que mundo é esse que criamos, onde alguém como Aaron Swartz acredita não caber?
Então, é isso. Ele nos deixou sozinhos no mundo que legamos à sua geração. Entre os tantos feitos admiráveis deixados por Aaron em sua curta trajetória, ao morrer ele deixou também um outro legado: a denúncia do nosso fracasso.
Perdão, Aaron Swartz.